Muito se tem falado, nos tempos hodiernos, sobre os temperamentos e, com isso, surge o questionamento: isso é uma moda? Trata-se de um campo da astrologia ou do horóscopo? É possível mudar o temperamento?
Cada pessoa possui um temperamento, uma bússola interna que guia suas emoções, comportamentos e reações. Entender o próprio temperamento e reconhecer o dos outros não é apenas uma jornada de autoconhecimento, mas também uma ferramenta poderosa para construir relações mais harmônicas e enriquecedoras.
Nas organizações, essa compreensão abre portas para a valorização das qualidades individuais, transformando diferenças em sinergia e conflitos em colaboração. Além disso, os temperamentos humanos têm sido objeto de estudo e reflexão ao longo da história, remontando à Antiguidade. Diversas teorias foram desenvolvidas para categorizar e compreender as diferentes formas como as pessoas respondem emocionalmente aos estímulos do ambiente.
A classificação mais famosa dos temperamentos remonta a Hipócrates (460-375 a.C.), que distinguia quatro temperamentos fundamentais: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Esta classificação ainda é válida e orientadora, mas é muito geral. Hoje em dia, uma das classificações mais conhecidas é a de Heymans, Wiersma e Le Senne, que distingue oito tipos de temperamentos: apaixonado, colérico, sanguíneo, sentimental, apático, fleumático, nervoso e amorfo. Estes são os resultados da combinação de três variáveis: emotividade, atividade e ressonância.
O nosso modo habitual de agir tem como causa, por um lado, algo natural e inato, e por outro, algo adquirido pelo costume e pela educação. O primeiro é o que os antigos chamavam de “temperamento” e o segundo é denominado “caráter”. Empregamos aqui o termo temperamento em seu sentido clássico, como o conjunto de tendências profundas que derivam da constituição fisiológica dos indivíduos. Pelo contrário, com a palavra caráter, significamos o conjunto das disposições psicológicas que resultam do trabalho sobre o temperamento, por meio da educação e dos esforços da vontade, e que resultam em um conjunto de hábitos bons ou maus (virtudes ou vícios).
Assim, caro leitor, o autoconhecimento serve para nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos e aos outros, pois nos permite identificar nossas disposições naturais mais profundas, a direção de nossas reações e os aspectos positivos e negativos de nosso modo natural de agir. Dessa maneira, a “síndrome da Gabriela” não será algo predominante em nossa vida, mas, ao contrário, nos levará a uma autoeducação, visando nosso crescimento.
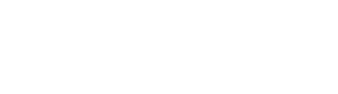






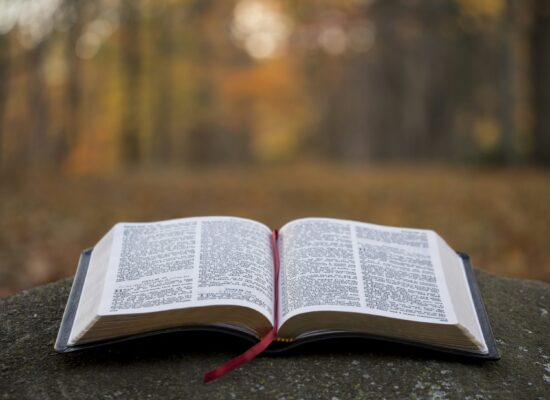

Nenhum Comentário! Ser o primeiro.